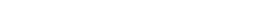“O que nós vemos das coisas são as coisas.
Porque veríamos nós uma coisa se houvesse outra?
Porque é que ver e ouvir seria iludirmo-nos
Se ver e ouvir são ver e ouvir?
O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê,
Nem ver quando se pensa.
Mas isso (triste de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
E uma sequestração na liberdade daquele convento
De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas
E as flores as penitentes convites de um só dia,
Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas
Nem as flores senão flores,
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores.”
O nosso cérebro encontra-se permanentemente ocupado. Quando trabalhamos ou estudamos, o que é perfeitamente natural, e nos momentos de lazer, com projecções, fantasias, medos, sentimentos negativos e mesquinhos.
Quando estamos livres psicologicamente, com o cérebro desimpedido de compulsões e pensamentos parasitas relativos ao passado ou ao futuro, vemos a realidade, o que ocorre momento a momento. E dessa liberdade, desse não pensar surge a beleza.
Precisamos de um cérebro lúcido, vivo. Para isso concorre a observação com o concomitante desenvolvimento dos sentidos, a percepção não interpretativa do desespero, da angústia, do desejo, em suma do sofrimento.
A percepção situa-se entre a sensação e o conhecimento. Saio à rua no Inverno com temperatura negativa e ventos fortes. Tenho a imediata sensação do frio. A esta sucede-se a percepção do facto de que tenho frio. Depois vem o conhecimento de que estou na Estação mais fria do ano, que os cumes da serra estão gelados, e como tal, o ar frio desce à terra chã, onde os ventos vindos de Espanha fazem o frio parecer mais frio.
Observação não é contemplação, entendida como capacidade de provocar o esquecimento da individualidade e do mundo, por efeito da absorção continuada e diligente do espírito no seu objecto.
Quando vemos alguém ou alguma coisa, memorizamos essa imagem, normalmente carregada de juízos de valor ou desvalor.
O pinheiro do meu jardim é alto, imponente, com um tronco grosso e bem torneado. A casa, a mulher, os filhos, os conhecidos, tudo o que tocamos, de todos formamos imagens. Passo pelo pinheiro, olho a minha casa, a minha mulher, já não os vejo como são nesse preciso momento, mas antes a imagem que deles tenho ainda que ligeiramente alterada por qualquer circunstância chamativa.
Olhar as coisas, recorrendo mentalmente a comparações, inviabiliza a contemplação.
“Ser uma coisa é não ser susceptível de interpretação.”
A lagoa que agora observo tem o seu ser próprio independente de todas as outras que conheço. Para a contemplar plenamente tenho de morrer para as imagens que dela retive noutros momentos e para as de outras lagoas que porventura já tenha visto, porque é nova, sempre nova, a cada instante.
Se pretendermos reter em memória o prazer do que vemos, escutamos, sentimos, acabamos por multiplicar os desejos. A vontade de repetir um prazer gera ansiedade, sofrimento.
Quando damos nome a uma coisa, não a definimos, muito menos descortinamos a sua essência, que é o que faz que um ser ou objecto sejam uma coisa e não outra diversa ou semelhante.
As palavras não são as coisas. Porventura, não terão um significado, mas vários usos.
A palavra rotula o que vemos e faz com que os acontecimentos e circunstâncias da vida quotidiana não sejam originais e extraordinários. Ver não é formar juízos ou opiniões, analisar, imaginar ou interpretar; ver é observar sem que se recorra ao pensamento destruidor, é galgar as barreiras do espaço-tempo de um modo espontâneo e instantâneo, que nunca se reitera para que o novel possa florir e frutificar em cada momento.
A observação é pura percepção e exclui qualquer tipo de raciocínio, análise ou dedução lógica. Exclui a “visão” que se estrutura num sistema filosófico, numa crença, em experiências passadas, pressupõe liberdade e inocência, morte e renascimento, é acção imediata.
Quando interpretamos o que vemos, deixamos de ver o que é, para vermos o que os nossos condicionamentos e experiências passadas querem ou permitem ver. Em vez do novo, observamos o velho modificado.
No ver somente, na percepção pura que não envolve o pensamento, não há continuidade. Na inexistência desta, não há sofrimento, há amor.
Ver alguém ou alguma coisa no momento presente é morrer para todas as ideias e imagens que possamos ter guardado em memória referentes a esse alguém ou coisa.
É não contagiar o objecto da visão.
Morrer para o passado é também morrer para os sentimentos de culpa, para a vergonha de actos pretéritos, para os medos e ilusões.
É começar sempre de novo, imaculadamente.
A aprendizagem psicológica não passa pelo estudo de livros, pela troca de conhecimentos, mas pela observação dos nossos pensamentos e acções.
Não é isso que fazemos. Somos cidadãos de segunda sempre dispostos a redizer, a citar as autoridades na matéria, incapazes de aprender a partir do nosso espírito.
Não nos esforçamos seriamente viajando no mais recôndito do nosso ser. Aproveitamos as viagens dos outros, que na maior parte das vezes se limitaram a viajar em viagens alheias e assim sucessivamente.
Quando observamos o pensamento e o seu movimento, numa vigilância passiva, sem condenar, justificar, interpretar, sem fugir dele recalcando-o ou sublimando-o, este tende a parar.
E, nesse estado de escuta passiva, se observamos o que nos rodeia, sem a sua contaminação, transcendemos o espaço-tempo, porque só existe o instante, o agora.
É o pensamento que cria o “eu”. Sem pensamento não há pensador, observador, só a coisa observada na sua pureza incontaminada.
Na observação pura e simples do que é, não há lugar para a ambição, para o vir a ser.
A observação da vida é feita de forma global, porque ela é una e indivisível.
A observação parcial, que é concentração, distorce a realidade, distorce a sua essência e vitalidade e induz-nos em erro.
Do livro “O Eterno Agora e a Revelação da Consciência”